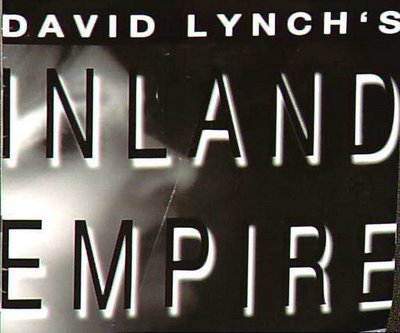Filme exibido na 30ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
É um filme simpático, agradável de se assistir, porém, não podemos evitar a sensação – momentos após sair da sala escura e lutando com as luzes do mundo “real” – de que faltou algo. Eu quero mais desse filme. Mas, infelizmente, ele acabou – um tanto repentinamente.
No caso, essa sensação de “quero mais” é a qualidade e o defeito da obra. Meus Quinze Anos (“Quinceañera” EUA, 2006, 90 min.), dirigido por Richard Glatzer e Wash Westmoreland ganhou os prêmios de filme dramático e do júri popular no mais recente festival de Sundance (famoso festival norte-americano de filmes independentes). A história mostra com simpatia uma família de ascendência mexicana no bairro latino de Echo Park, em Los Angeles. Sorrimos e confortamo-nos com o seu calor e alegria latinos, especialmente nas festas de debutantes. Contudo, o foco está na figura de Magdalena (Emily Rios), que engravida virgem (é isso mesmo) nas vésperas de completar seus quinze anos (sua “quinceañera”). Sem acreditar no argumento da “virgindade”, exposto pela filha, o seu pai a expulsa de casa e ela vai morar com o tio-avô Tomás Alvarez (o ótimo ator Chalo González) – o pioneiro do clã a emigrar para a América – e seu sobrinho gangsta-gay (é isso mesmo) Carlos (Jessé Garcia), também expulso de casa pelo pai.
A figura do tio Tomás é o ponto alto do filme. Ele acolhe com carinho os dois desajustados e ensina a todos a conviver com as diferenças e as vicissitudes da vida. Sua simpatia conquista o espectador de imediato. Contudo, seu fim é trágico (não falarei como) e o discurso de Carlos – em determinada cena no final – é fortemente significativo e comovente.
É aqui que podemos começar a falar dos problemas do filme. Não faria mal ele tratar um pouco mais e de maneira um pouco mais contundente dos fatos que levaram à tragédia do tio Tomás – esse assunto, de grande pertinência e gravidade, ficou muito “jogado” no filme, assim como a questão da gravidez virgem e adolescente de Magdalena. O filme não entra a fundo nessas questões e em outras (como a homossexualidade e a bandidagem de Carlos). É claro que não precisaria ser um “filme de tese” (o que certamente agradaria muito melhor o gosto intelectual dos críticos e do público culto), mas, do modo como está, acaba sendo uma narrativa por demais pitoresca e picaresca – o que, em si, não é de jeito algum mal, mas, ao tratar de temas tão graves, o filme poderia deixar-se imiscuir de pelo menos um pouco mais de seriedade, que não faria muito mal à sua proposta de simpatia.
A narrativa adota soluções por demais fáceis e rápidas para os problemas tratados. Soluções positivas e edificantes, o que não é ruim nem inverossímil, porém, superficiais. Podemos até enxergar essas soluções como mostras da simplicidade, da humildade e do caráter positivo daqueles personagens, contudo, isso pode não ser o suficiente...
Pode-se talvez reconhecer, em Meus Quinze Anos, um parcela daquela visão demasiadamente exótica, pitoresca e picaresca (engraçadinha), paternalista e um tanto quanto preconceituosa (o chamado “preconceito positivo” presente nos elogios) que a classe dominante artística e intelectualizada tem do povo e da cultura popular. Essa visão está por demais presente (quem sabe predominante) no cinema brasileiro e também na nossa literatura, particularmente nos romances do Romantismo do século XIX e de autores mais modernos como Jorge Amado. Essa visão chama muito a atenção pela banalidade e pelo deslocamento, pelo desencaixe que faz de questões fundamentais.
É um filme simpático, agradável de se assistir, porém, não podemos evitar a sensação – momentos após sair da sala escura e lutando com as luzes do mundo “real” – de que faltou algo. Eu quero mais desse filme. Mas, infelizmente, ele acabou – um tanto repentinamente.
No caso, essa sensação de “quero mais” é a qualidade e o defeito da obra. Meus Quinze Anos (“Quinceañera” EUA, 2006, 90 min.), dirigido por Richard Glatzer e Wash Westmoreland ganhou os prêmios de filme dramático e do júri popular no mais recente festival de Sundance (famoso festival norte-americano de filmes independentes). A história mostra com simpatia uma família de ascendência mexicana no bairro latino de Echo Park, em Los Angeles. Sorrimos e confortamo-nos com o seu calor e alegria latinos, especialmente nas festas de debutantes. Contudo, o foco está na figura de Magdalena (Emily Rios), que engravida virgem (é isso mesmo) nas vésperas de completar seus quinze anos (sua “quinceañera”). Sem acreditar no argumento da “virgindade”, exposto pela filha, o seu pai a expulsa de casa e ela vai morar com o tio-avô Tomás Alvarez (o ótimo ator Chalo González) – o pioneiro do clã a emigrar para a América – e seu sobrinho gangsta-gay (é isso mesmo) Carlos (Jessé Garcia), também expulso de casa pelo pai.
A figura do tio Tomás é o ponto alto do filme. Ele acolhe com carinho os dois desajustados e ensina a todos a conviver com as diferenças e as vicissitudes da vida. Sua simpatia conquista o espectador de imediato. Contudo, seu fim é trágico (não falarei como) e o discurso de Carlos – em determinada cena no final – é fortemente significativo e comovente.
É aqui que podemos começar a falar dos problemas do filme. Não faria mal ele tratar um pouco mais e de maneira um pouco mais contundente dos fatos que levaram à tragédia do tio Tomás – esse assunto, de grande pertinência e gravidade, ficou muito “jogado” no filme, assim como a questão da gravidez virgem e adolescente de Magdalena. O filme não entra a fundo nessas questões e em outras (como a homossexualidade e a bandidagem de Carlos). É claro que não precisaria ser um “filme de tese” (o que certamente agradaria muito melhor o gosto intelectual dos críticos e do público culto), mas, do modo como está, acaba sendo uma narrativa por demais pitoresca e picaresca – o que, em si, não é de jeito algum mal, mas, ao tratar de temas tão graves, o filme poderia deixar-se imiscuir de pelo menos um pouco mais de seriedade, que não faria muito mal à sua proposta de simpatia.
A narrativa adota soluções por demais fáceis e rápidas para os problemas tratados. Soluções positivas e edificantes, o que não é ruim nem inverossímil, porém, superficiais. Podemos até enxergar essas soluções como mostras da simplicidade, da humildade e do caráter positivo daqueles personagens, contudo, isso pode não ser o suficiente...
Pode-se talvez reconhecer, em Meus Quinze Anos, um parcela daquela visão demasiadamente exótica, pitoresca e picaresca (engraçadinha), paternalista e um tanto quanto preconceituosa (o chamado “preconceito positivo” presente nos elogios) que a classe dominante artística e intelectualizada tem do povo e da cultura popular. Essa visão está por demais presente (quem sabe predominante) no cinema brasileiro e também na nossa literatura, particularmente nos romances do Romantismo do século XIX e de autores mais modernos como Jorge Amado. Essa visão chama muito a atenção pela banalidade e pelo deslocamento, pelo desencaixe que faz de questões fundamentais.
Assim, uma imagem que representa perfeitamente essa visão (e o próprio filme, em seus personagens, temas e situações) está no começo de Meus Quinze Anos – é a primeira imagem que aparece na tela: vemos uma paisagem de natureza paradisíaca que imediatamente tomamos como real, exceto por uma linha do lado direito que a deixa descontínua – o que é bastante chamativo e nos faz por um momento pensar que o projetor da sala de exibição está desregulado; então, aparece em primeiro plano (o que nos faz pular para trás na cadeira) o busto do pai de Magdalena, e vemos, posteriormente, que aquela paisagem é um cartaz (muito mal colado, por causa daquela linha) na parede do altar da igreja na qual ele é pastor e que toda a família freqüenta. O “kitch”, o desencaixe e a ilusão daquele cartaz define maravilhosamente o filme, seu ponto de vista, seus personagens e enredo.