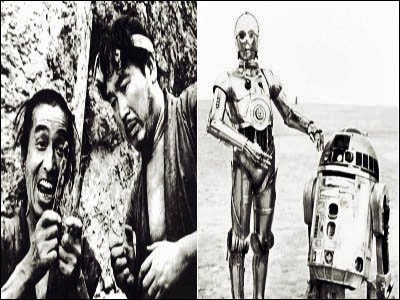É um alívio imenso ver um filme brasileiro contemporâneo que não pareça uma atualização cinematográfica da velha literatura de Aluísio Azevedo e de Émile Zola. Ou seja, um filme nacional que não apresente, numa chave tão contundente que beire o exagero sádico, a miséria material e psíquica, a violência, a ditadura militar, e outras chagas típicas do nosso país. Melhor ainda seria um filme que ignorasse completamente esses temas.
Ainda estou esperando a produção tupiniquim pós-retomada que envolva exclusivamente um drama psicológico urbano com ares universalizantes (se essa fita já existe e eu não conheço, por favor, alguém me aponte). Entretanto, um filme assim dificilmente seria considerado no estrangeiro, pois o preconceito de muitos impede que acreditem que sejamos capazes de produzir tragédias “shakespearianas”. Seria uma audácia o Brasil começar a falar como gente grande, madura e civilizada, em uma narrativa que pudesse suceder em qualquer grande metrópole do primeiro mundo.
Assim, o que as platéias e crítica do exterior exigem de nós são amostras do subdesenvolvimento, apenas isso. Um filme nacional poderia até apontar na direção que eu sugeri no parágrafo anterior, mas ele não poderia prescindir – em algum momento que seja – da cor local, isto é, de algum elemento reconhecível dos “problemas sociais” brasileiros. Isso revela o quanto domina, no estrangeiro, a mentalidade do colonizador (para a qual nós devemos nos colocar no “nosso lugar”, ou seja, falando como nação subdesenvolvida nas diversas manifestações culturais, dentre elas o cinema). Se nós obedecermos a esse imperativo, estaremos perpetuando a mentalidade do colonizado; desse modo, o ciclo se fechará.
É claro que é importante o nosso cinema tratar de questões que mais urgem à nossa atenção, reflexão e ação social; e há muitas conquistas importantes nesse terreno nos filmes pós-retomada. Por exemplo, as chocantes contradições provocadas pela profunda desigualdade social e a ditadura militar, trauma recente ainda longe de ser completamente processado e superado. Contudo, há tantos filmes assim, que a coisa acaba se naturalizando demais e virando como que um princípio temático e estético, algo que nós confundimos com a nossa própria identidade, definindo-nos como indivíduos e como nação. Esse é o perigo. Perigo que também (e principalmente) sofreu a literatura nacional do século XIX. Porém, a “cor local” que então se enxergava e exigia de nossas expressões artísticas e culturais pertencia a uma base “positiva”: o exótico e a beleza exuberante e específica de nossa natureza, de nosso índio, de nossa cultura popular. Românticos estrangeiros como Ferdinand Denis (autor de diversas pinturas paisagísticas sobre nossa terra) fizeram muito por espalhar essa noção de identidade brasileira, e românticos locais como Gonçalves Dias (poeta) e José de Alencar (romancista) assimilaram e assumiram isso como razão de alto patriotismo.
Por isso, Machado de Assis, que revolucionou a nossa literatura, pois ele não queria saber de tal “macumba para estrangeiro”, foi muito criticado à sua época, acusado de não mostrar a “cor local”. Não me surpreenderia se esse mesmo tipo de crítica fosse feita (aqui ou lá fora) a determinado filme (o qual, repito, acredito que não exista). Falta um Machado de Assis no nosso cinema, alguém que o renove tanto quanto o mulato gago e epiléptico do Cosme Velho renovou nossa arte literária; os filmes nacionais encontram-se numa situação tão sem saída quanto os romances no final do nosso Romantismo. Cadê “o bruxo”?
O filme A Oitava Cor do Arco-Íris (Brasil, 2004) não traz essa renovação, e nem devemos esperar que traga. Mas a produção tem o seu valor. Não apresenta a “cor local” moderna (a ênfase contundente na miséria e na violência), mas embeleza-se da “cor local” tradicional (paisagens do Mato Grosso, pontos turísticos de Cuiabá, um povo simples e simpático). Temos aqui o primeiro longa-metragem inteiramente produzido no Mato Grosso, dirigido pelo estreante em longas Amauri Tangará. Apesar dos seus defeitos, se cada estado produzisse um longa por ano, o cinema brasileiro atingiria outro patamar.
A intriga concentra-se no garoto Joãozinho, de 11 anos, órfão de pais e que mora com a avó. Preocupado com a saúde debilitada dela, ele toma a sua última posse que tem algum valor – uma cabrita preta magricela, chamada Mocinha – e a leva até Cuiabá, para tentar vendê-la e comprar os remédios de que a avó necessita. O filme se pauta na visão ingênua de Joãozinho (por que devemos carregar de conotação pejorativa o vocábulo “ingenuidade”? Esqueçamos um pouco Voltaire e qualifiquemos a mentalidade de Joãozinho – e a do próprio filme – como pura): ele não sabe sequer quais são os remédios que deve comprar, nem o quanto custam.
É dessa ingenui... ops! pureza que o filme retira a sua energia e valor. Dentro do quadro que pintamos anteriormente, isso é raro no cinema brasileiro contemporâneo (a não ser, é claro, que falemos daquela “ingenuidade” comum em comédias e histórias de amor urbanas que apenas mascara um discurso alienante de propósito comercial).
Ainda estou esperando a produção tupiniquim pós-retomada que envolva exclusivamente um drama psicológico urbano com ares universalizantes (se essa fita já existe e eu não conheço, por favor, alguém me aponte). Entretanto, um filme assim dificilmente seria considerado no estrangeiro, pois o preconceito de muitos impede que acreditem que sejamos capazes de produzir tragédias “shakespearianas”. Seria uma audácia o Brasil começar a falar como gente grande, madura e civilizada, em uma narrativa que pudesse suceder em qualquer grande metrópole do primeiro mundo.
Assim, o que as platéias e crítica do exterior exigem de nós são amostras do subdesenvolvimento, apenas isso. Um filme nacional poderia até apontar na direção que eu sugeri no parágrafo anterior, mas ele não poderia prescindir – em algum momento que seja – da cor local, isto é, de algum elemento reconhecível dos “problemas sociais” brasileiros. Isso revela o quanto domina, no estrangeiro, a mentalidade do colonizador (para a qual nós devemos nos colocar no “nosso lugar”, ou seja, falando como nação subdesenvolvida nas diversas manifestações culturais, dentre elas o cinema). Se nós obedecermos a esse imperativo, estaremos perpetuando a mentalidade do colonizado; desse modo, o ciclo se fechará.
É claro que é importante o nosso cinema tratar de questões que mais urgem à nossa atenção, reflexão e ação social; e há muitas conquistas importantes nesse terreno nos filmes pós-retomada. Por exemplo, as chocantes contradições provocadas pela profunda desigualdade social e a ditadura militar, trauma recente ainda longe de ser completamente processado e superado. Contudo, há tantos filmes assim, que a coisa acaba se naturalizando demais e virando como que um princípio temático e estético, algo que nós confundimos com a nossa própria identidade, definindo-nos como indivíduos e como nação. Esse é o perigo. Perigo que também (e principalmente) sofreu a literatura nacional do século XIX. Porém, a “cor local” que então se enxergava e exigia de nossas expressões artísticas e culturais pertencia a uma base “positiva”: o exótico e a beleza exuberante e específica de nossa natureza, de nosso índio, de nossa cultura popular. Românticos estrangeiros como Ferdinand Denis (autor de diversas pinturas paisagísticas sobre nossa terra) fizeram muito por espalhar essa noção de identidade brasileira, e românticos locais como Gonçalves Dias (poeta) e José de Alencar (romancista) assimilaram e assumiram isso como razão de alto patriotismo.
Por isso, Machado de Assis, que revolucionou a nossa literatura, pois ele não queria saber de tal “macumba para estrangeiro”, foi muito criticado à sua época, acusado de não mostrar a “cor local”. Não me surpreenderia se esse mesmo tipo de crítica fosse feita (aqui ou lá fora) a determinado filme (o qual, repito, acredito que não exista). Falta um Machado de Assis no nosso cinema, alguém que o renove tanto quanto o mulato gago e epiléptico do Cosme Velho renovou nossa arte literária; os filmes nacionais encontram-se numa situação tão sem saída quanto os romances no final do nosso Romantismo. Cadê “o bruxo”?
O filme A Oitava Cor do Arco-Íris (Brasil, 2004) não traz essa renovação, e nem devemos esperar que traga. Mas a produção tem o seu valor. Não apresenta a “cor local” moderna (a ênfase contundente na miséria e na violência), mas embeleza-se da “cor local” tradicional (paisagens do Mato Grosso, pontos turísticos de Cuiabá, um povo simples e simpático). Temos aqui o primeiro longa-metragem inteiramente produzido no Mato Grosso, dirigido pelo estreante em longas Amauri Tangará. Apesar dos seus defeitos, se cada estado produzisse um longa por ano, o cinema brasileiro atingiria outro patamar.
A intriga concentra-se no garoto Joãozinho, de 11 anos, órfão de pais e que mora com a avó. Preocupado com a saúde debilitada dela, ele toma a sua última posse que tem algum valor – uma cabrita preta magricela, chamada Mocinha – e a leva até Cuiabá, para tentar vendê-la e comprar os remédios de que a avó necessita. O filme se pauta na visão ingênua de Joãozinho (por que devemos carregar de conotação pejorativa o vocábulo “ingenuidade”? Esqueçamos um pouco Voltaire e qualifiquemos a mentalidade de Joãozinho – e a do próprio filme – como pura): ele não sabe sequer quais são os remédios que deve comprar, nem o quanto custam.
É dessa ingenui... ops! pureza que o filme retira a sua energia e valor. Dentro do quadro que pintamos anteriormente, isso é raro no cinema brasileiro contemporâneo (a não ser, é claro, que falemos daquela “ingenuidade” comum em comédias e histórias de amor urbanas que apenas mascara um discurso alienante de propósito comercial).
(continua no post abaixo)